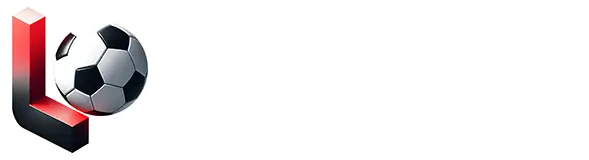No bestseller “Febre de Bola” (Fever Pitch), o escritor inglês Nick Hornby recordou a sinfonia caótica da North Bank, a antiga arquibancada do venerável Highbury Park, casa do Arsenal FC, em Londres. Ele descreveu o som ambiente como uma rica tapeçaria de ruídos: “Eu amava as diferentes categorias de ruído: o som formal e ritualístico quando os jogadores entravam em campo (o nome de cada jogador chamado em sequência, começando pelo favorito, até que ele respondesse com um aceno); o rugido espontâneo e disforme quando algo empolgante acontecia no gramado: o vigor renovado do canto após um gol ou um período de ataque constante.”
O ambiente festivo e quase eufórico do estádio é construído por muito mais que o jogo. Palmas rítmicas, tambores, cânticos coletivos, vaias, o aroma inconfundível de bratwurst e salsichas grelhadas, fogos de artifício e fumaça, bandeiras coloridas e sirenes ensurdecedoras transformam a ida ao estádio em uma experiência vibrante que apela a todos os sentidos. Ali, forma-se um palpável sentimento de solidariedade. Desta forma, Hornby toca em dois eixos temáticos que têm ganhado atenção considerável entre os historiadores culturais: a virada auditiva (ou acústica) e a virada emocional.
Meu objetivo neste artigo é investigar como o futebol e seus protagonistas moldam as emoções dos torcedores no estádio, pelo rádio ou pela televisão, e delinear uma tipologia dos sentimentos expressos ao longo de uma partida. Não há quem não se lembre do terceiro gol em Wembley, aquele chute sinistramente forte de Geoff Hurst na prorrogação da final da Copa do Mundo, em direção à meta alemã defendida por Hans Tilkowski.
A bola acertou a parte inferior do travessão, quicou — se atrás ou na frente da linha, jamais saberemos ao certo — e voltou para o campo, de onde o zagueiro alemão Weber a cabeceou para fora. Seguiram-se vários minutos de esperança e pavor enquanto o árbitro suíço, Gottfried “Gotti” Dienst, deliberava longamente com o bandeirinha soviético Bakhramov, até finalmente confirmar o gol. Hurst, o alto meio-campista do West Ham United, ainda marcaria outro para consolidar o 4 a 2, dando à Inglaterra sua primeira — e única, até agora — Copa do Mundo.

Por décadas, na República Federal da Alemanha, as pessoas lamentaram a decisão controversa, sempre buscando provar que a bola não havia ultrapassado a linha. O “Gol de Wembley” se cravou como um local de memória fervorosamente debatido, analisado e condenado. As emoções despertadas pelo “terceiro gol” na Alemanha variavam da tristeza ao escárnio e à revolta, gerando até mesmo teorias da conspiração que envolviam o árbitro e os bandeirinhas.
Em uma segunda seção deste artigo, exploraremos jogadores que funcionam como modelos ideais tanto para os torcedores quanto para os adversários. A seção final se concentrará nos esquecidos e nos “rebeldes” — uma breve seleção de jogadores e treinadores que ainda despertam profunda emoção no observador moderno por terem sido marcados por tragédias pessoais; vidas que só poderiam ter se desenrolado no século XX.
Um jogo dramático como faísca da emoção
Existe um vasto repertório de partidas que um fã de futebol carrega consigo para sempre, seja a conquista de um título nos pênaltis, um confronto crucial de Copa do Mundo decidido na prorrogação após inúmeras reviravoltas, ou a dor da derrota no jogo decisivo contra o rebaixamento. Partidas assim são assunto de longos anos de discussão entre amigos. Os gols importantes são alegremente rememorados, e a lembrança do dia da queda do time traz uma sensação palpável de sofrimento. Palavras como “se”, “se ao menos” e “mas” são centrais nessas conversas, pois embora o passado não mude, ele se renova a cada narrativa.
A história da Copa do Mundo está repleta de jogos inesquecíveis. Em 8 de julho de 1982, as seleções da França e da Alemanha se enfrentaram nas semifinais da Copa do Mundo, no estádio Piz Juan, em Sevilha. Enquanto os alemães haviam precisado de um golpe de sorte e de um jogo de compadres na infame “Vergonha de Gijón” para sobreviver à primeira fase após uma derrota chocante para a Argélia, os franceses encantavam o mundo com seu futebol tecnicamente inspirado e jogado com garra.
Quatro anos antes, o técnico Michel Hidalgo montara uma equipe para o torneio na Argentina cujo meio-campo era um poço de engenhosidade, repleto de virtuosos: o maestro Michel Platini, o pequeno e quase frágil técnico Alain Giresse, o corredor Jean Tigana e o espigado Bernard Genghini. A liderança defensiva da équipe tricolore ficava a cargo do veterano líbero Marius Trésor, da Martinica, com o elegante lateral-ofensivo Manuel Amoros voando pela ponta. No ataque, pontas como Bernard Lacombe, Dominique Rochetau e Didier Six eram tecnicamente excelentes, mas falhavam na consistência da finalização. A simpatia do público estava claramente dividida: o mundo do futebol apoiava a França; os alemães, a Alemanha. O jogo era um duelo entre a finesse e a forma física, a elegância e a energia, a engenhosidade e o pragmatismo.
A Alemanha abriu o placar aos 18 minutos com Pierre Littbarski, mas Michel Platini empatou de pênalti apenas dez minutos depois. Pouco antes do fim do tempo regulamentar, esta partida intensa e de alto nível parecia se decidir quando o zagueiro Patrick Battiston, que acabara de entrar, surgiu sozinho na frente do goleiro Toni Schumacher. Numa jogada brutal, Schumacher derrubou o atacante violentamente. A bola rolou a centímetros da meta vazia. Battiston ficou inconsciente no chão, sofrendo concussão grave e perdendo vários dentes devido à falta excepcionalmente dura do goleiro alemão. O estereótipo do alemão implacável e patologicamente ambicioso parecia se confirmar em todos os aspectos. Na prorrogação, Manuel Amoros só conseguiu acertar o travessão, e o ponta alemão Klaus Fischer, substituto, errou um chute a gol por um triz.
Os franceses dominaram o tempo extra, abrindo uma vantagem aparentemente intransponível de 3 a 1 com gols de Marius Trésor e Alain Giresse, e buscavam até o quarto gol antes que os alemães, incansáveis, voltassem à carga. Hans-Peter Briegel, o “Rolo Compressor do Palatinado”, ex-decatleta com uma preparação física lendária, continuou a impulsionar sua equipe. Apenas Jean Tigana conseguiu acompanhar o ritmo acelerado por um tempo. Os meias Karl-Heinz Rummenigge e o veterano Klaus Fischer conseguiram empatar o placar com gols de bicicleta espetaculares. Após 120 minutos de pura emoção, o jogo foi para os pênaltis. Aqui, novamente, os Bleus pareciam certos da vitória. O zagueiro Uli Stielike errou a cobrança e desabou no gramado, tomado pela tristeza e vergonha.

As câmeras ainda mostravam o sofrimento dramático de Stielike quando os alemães voltaram a se alegrar: Didier Six cobrou, e Schumacher defendeu. Em instantes, o goleiro passara de vilão a herói. Por fim, o pálido zagueiro central Maxime Bossis se tornou a figura trágica ao perder o pênalti decisivo. O atacante Horst Hrubesch, que entrara no jogo e dois anos antes havia garantido o Campeonato Europeu com um cabeceio no último minuto, aproveitou sua chance para selar a vitória. Fatalista, ele chutou a bola na marca, sem ajustá-la ao seu gosto.
Os alemães voltaram à final, onde foram derrotados de forma clara e convincente (3 a 1) pelos italianos, que, naquele torneio, se mostraram brilhantes e astutos. Os franceses, profundamente desapontados, escalaram um time reserva na disputa pelo terceiro lugar e perderam para a Polônia. Os Bleus alcançaram as semifinais três vezes. Eles celebravam um futebol esteticamente agradável, mas ineficiente, e o sonho se desfez abruptamente diante da robustez e do preparo físico. Metade do planeta sofreu junto com os franceses, que caíram de cabeça erguida. Muitos choraram com a popular e criativa equipe, cuja derrota se concretizou pouco antes da meia-noite.
O contraste entre a arte e a força física
A Copa do Mundo de 1982 já havia presenciado uma partida de intensidade semelhante na segunda fase: a Itália precisava vencer o Brasil para chegar às semifinais. O time brasileiro contava com artistas absolutos como Zico, Sócrates, Falcão, Éder e Júnior, evocando a criatividade das Seleções vitoriosas entre 1958 e 1970. Em contraste, a Itália só avançou à segunda fase por pura sorte, após três empates. Apenas o veterano goleiro Dino Zoff e a defesa, com o líbero Gaetano Scirea (que morreu tragicamente cedo), o implacável Claudio Gentile e o talentoso Antonio Cabrini (todos da Juventus), além do incansável Fulvio Collovati, estavam no seu nível habitual. O técnico Enzo Bearzot, porém, libertou as amarras táticas, e a Squadra Azzurra avançou no ataque. Giancarlo Antognoni orquestrava o meio-campo.
O cabeludo Bruno Conti dominava as pontas. Marco Tardelli jogava forte e era apoiado por Graziani e Paolo Rossi, o centroavante oportunista e com um faro de gol inacreditável, que havia estado envolvido em um grande escândalo de corrupção do futebol no final dos anos 70, embora sempre negasse. Os brasileiros tiraram a liderança italiana quase que imediatamente, utilizando seu jogo de passes curtos e fintas variadas. No entanto, os italianos, mais atentos, exploraram a fragilidade da defesa brasileira e o goleiro notoriamente falho Valdir Perez. Paolo Rossi marcou todos os três gols para garantir a vitória dos italianos, que se superaram em campo. A Itália derrotou a Polônia na semifinal antes de vencer os alemães por 3 a 1 na final, sob o olhar do envelhecido presidente italiano Sandro Pertini, que chegou a dançar nas arquibancadas.

Rossi, Tardelli e o substituto Alessandro Altobelli marcaram para os Azzurri dominantes antes que Paul Breitner marcasse o gol de honra alemão. A celebração do gol de Tardelli está eternizada na memória dos fãs de futebol, quando ele gritou sua alegria além da linha de centro. Seu rosto capturou de forma quase filosófica o que é a libertação total e a alegria sem limites. Quatro anos depois, na Copa do Mundo do México, nós (brasileiros) voltamos a falhar contra a França em uma partida dramática, decidida nos pênaltis. Sócrates, o pediatra e meio-campista, perdeu o pênalti decisivo contra o goleiro francês Joël Bats, que gostava de escrever poesia de amor. Em um dos jogos mais tecnicamente perfeitos de todos os tempos, Careca abriu o placar para a Seleção. A França empatou com um gol de Platini após cruzamento de Amoros. No meio-campo, onde os franceses haviam sido dominantes, eles ganharam uma ligeira vantagem graças ao combativo Luis Fernandez.
Ambas as equipes, contudo, falharam em aproveitar inúmeras chances de gol. Nos pênaltis, o eminente Platini errou sua cobrança, enquanto o atacante Bruno Bellone se aproveitou de uma sorte inacreditável, já que seu chute forte rebateu na trave, bateu nas costas do goleiro e rolou como uma bola de bilhar para dentro do gol. Desta vez, a sorte sorriu para os franceses, pois Sócrates falhou em sua penalidade. Nas semifinais, a équipe tricolore novamente sucumbiu ao esforço alemão. O alemão Wolfgang Rolff marcou o visivelmente exausto Platini. Felix Magath jogou com grande visão. Os zagueiros Guido Buchwald e Karl-Heinz Förster fizeram sua parte para frustrar o jogo técnico francês. Os alemães perderam no estádio Asteca, no México, para os argentinos por 2 a 3, após terem se recuperado de uma desvantagem de dois gols, assim como haviam feito quatro anos antes contra a França. O fato de Toni Schumacher ter permitido que os argentinos abrissem o placar na final devido a uma falha grosseira trouxe uma sensação de justiça a muitos observadores. O vilão de Sevilha finalmente havia sido castigado!
O preço da vitória e o declínio dos jogos épicos
É notável que tanto Brasil quanto França só se sagraram campeões mundiais quando adicionaram defensores sólidos e goleiros fortes aos seus elencos – Cláudio Taffarel no Brasil e Fabien Barthez na França. Este sucesso, porém, veio com um custo tático e atlético. Jogadores como Dunga, Mauro Silva e Márcio Santos, ou Marcel Desailly, Didier Deschamps, Lilian Thuram, Patric Viera e Emmanuel Petit eram atléticos e imensamente robustos, com preparo físico superior até mesmo ao dos alemães e ingleses. Eles atacavam sem piedade para proteger as costas de artistas como Zinedine Zidane, Rivaldo, Romário e Bebeto.
Foram justamente as equipes e jogadores mais tecnicamente proficientes que falharam no momento decisivo: Hungria em 1954, Holanda em 1974 e 1978 — quando infelizmente perderam contra os anfitriões nas finais da Copa do Mundo —, e os portugueses em 2000, quando um handball contestado abriu caminho para a França chegar à final do Campeonato Europeu. O único consolo para Luís Figo, João Pinto, Rui Costa e Nuno Gomes é que estavam no time que jogava o melhor futebol, e que a simpatia estava do lado deles.
Com a virada do milênio, jogos épicos como os descritos se tornaram raros. As regras do “Gol de Ouro” e “Gol de Prata”, em vigor entre 1993 e 2004, dificultaram que viradas aparentemente impossíveis fossem recompensadas no último minuto, quando as amarras táticas são finalmente rompidas e um mundo que acredita em milagres parecia se encher de magia. A combinação de sofrimento e esperança, triunfo e lágrimas, tão característica do ciclismo, esteve quase totalmente ausente do futebol por mais de uma década. Os duelos míticos, como os conhecidos na Tour de France ou Giro d’Italia (entre Kübler e Koblet, Bartali e Coppi, Anquetil e Poulidor, Hinault e Zoetemelk, Le Mond e Fignon), pareciam não ter lugar em uma era com janelas de publicidade estritamente controladas. Apenas o retorno das cobranças de pênaltis reacendeu tais duelos, como visto na final da Copa do Mundo de 2006.